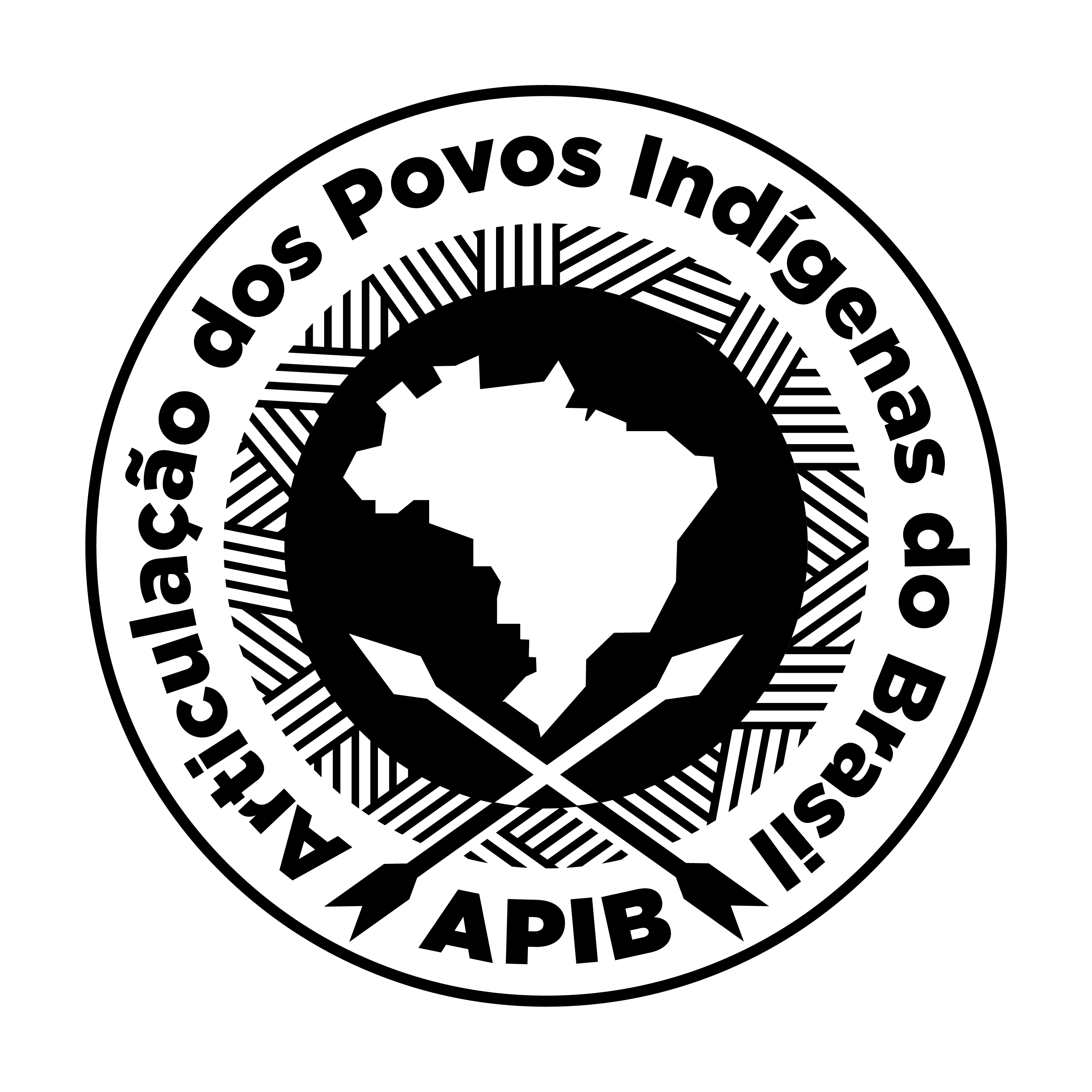Por Dinamam Tuxá e Felipe Tuxá
Foto Cicero Bezerra
Quase que em momentos equidistantes, chegamos ao final do ano com mais uma morte violenta de um jovem indígena. No décimo oitavo dia de 2023, em janeiro, estivemos consternados com a perda de dois jovens Pataxó assassinados por pistoleiros, numa área de reocupação territorial na Terra Indígena Barra Velha, no extremo sul da Bahia. Eram eles Nawir Brito de Jesus de 17 anos e Samuel Cristiano do Amor Divino de 25 anos. Agora, faltando nove dias para o final do ano, recebemos a notícia de mais uma perda. Trata-se do Cacique Lucas Kariri-Sapuyá, do povo Pataxó Hahahãe de 31 anos, alvo de emboscada por pistoleiros na entrada da Aldeia do Rio Pardo, próximo a aldeia Caramuru no Sul da Bahia. Assim começamos e encerramos o ciclo 2023.
Embora separadas por meses, engana-se quem pensa se tratarem de casos isolados. Quase como uma violência lenta, em conta-gotas, assassinatos como esses encontram-se dispersos ao longo dos anos. Aparecem na mídia como notícias desconexas, convidando o leitor ou expectador a pensar brevemente sobre o contexto cotidiano de vida de povos indígenas. A morte de nossos jovens suscita a urgência de se pensar sobre o que se convencionou chamar de “questão indígena”. Distante dos espetáculos culturais que a sociedade civil aceitou consumir acerca dos povos indígenas, “danças”, “mitos”, “lendas”, “folclore”, “cantos”, “pajelanças” e o crescente “turismo étnico espiritual” existe um Brasil indígena repleto de conflitos, onde mães, pais, avós, esposas, esposos e filhos pranteiam a iminência da morte de familiares, ameaçados e criminalizados ao buscarem seus direitos. Por mais incômodo que seja, é necessário falar desse Brasil indígena.
A narrativa de um país diverso, multicultural e democrático fabula realidades indígenas obscuras cujas cenas, acerca da violência, constrange a sociedade civil diante de um contexto de vida dramático. São cenas de crianças yanomami desnutridas ou sugadas por maquinários de garimpo ilegal, vidas jovens ceifadas cedo demais, o drama Guarani em Mato Grosso do Sul, a ameaça do Marco Temporal e um continuum de turbulências. Foi essa teia de violência que quisemos denunciar na tese de Doutorado em Antropologia Social onde tratamos da Letalidade Branca defendida na Universidade de Brasília em 2022. Com a letalidade branca refletimos sobre as experiências indígenas em um país que nunca se quis indígena! Onde o senso comum nos compele para existências marginais ao mesmo tempo em que promove ideias absurdas como a de que indígenas possuem “direitos demais”.
Como a alcunha convencional coloca quando tratamos das demandas indígenas através do rótulo de “questão indígena”, situamos esses povos a partir de uma interrogação, um problema a ser resolvido. Qual é, portanto, o problema dos povos indígenas? Olhar seriamente para as nossas demandas é ainda, falar de demarcação territorial e proteção daqueles que já estão demarcados. Afinal, vivemos em um país que situa a presença indígena como um empecilho, obstáculos para acesso a territórios. Embora os direitos territoriais e o dever do Estado de cumprir com as demarcações e desintrusões estejam previstos em nossa Carta Magna, o sem número de projetos de leis que atacam esses mesmos direitos mostram o tamanho das adversidades que enfrentamos para efetiva-los. Ultimamente, temos lutado para preservar os direitos de retrocessos, enquanto deveríamos estar vendo os mesmos sendo efetivados. São centenas de processos demarcatórios parados, presos numa morosidade violenta, vários povos vivendo em acampamentos improvisados em beiras de estradas, velhos e velhas que morrem clamando por justiça diante de vulnerabilidades históricas.
Olhar pro Brasil indígena precisa, urgentemente, ser mais que uma celebração de diversidade. Precisa ser enfrentar a História desse país. A história de sua ocupação e o legado que cinco séculos desde a invasão deixaram para as comunidades indígenas no presente. A violência que acomete os povos indígenas, não é contingencial. Precisa ser enfrentada como elemento fundante de uma nação erguida em cima de saque e pilhagem de territórios indígenas. É essa memória que é o mastro para a condução de um futuro para um Brasil que seja, também, indígena. Um Brasil onde culpados sejam encontrados e responsabilizados, onde o Ministério dos Povos Indígenas e a Fundação Nacional dos Povos Indígenas estejam fortalecidos, e onde os direitos indígenas sejam efetivados e não atacados.
Lembraremos de Nawir, Lucas, e Samuel, assim como lembramos de Galdino, Paulino e tantos outros e outras. Eles vivem em nós. Justiça e demarcação já.