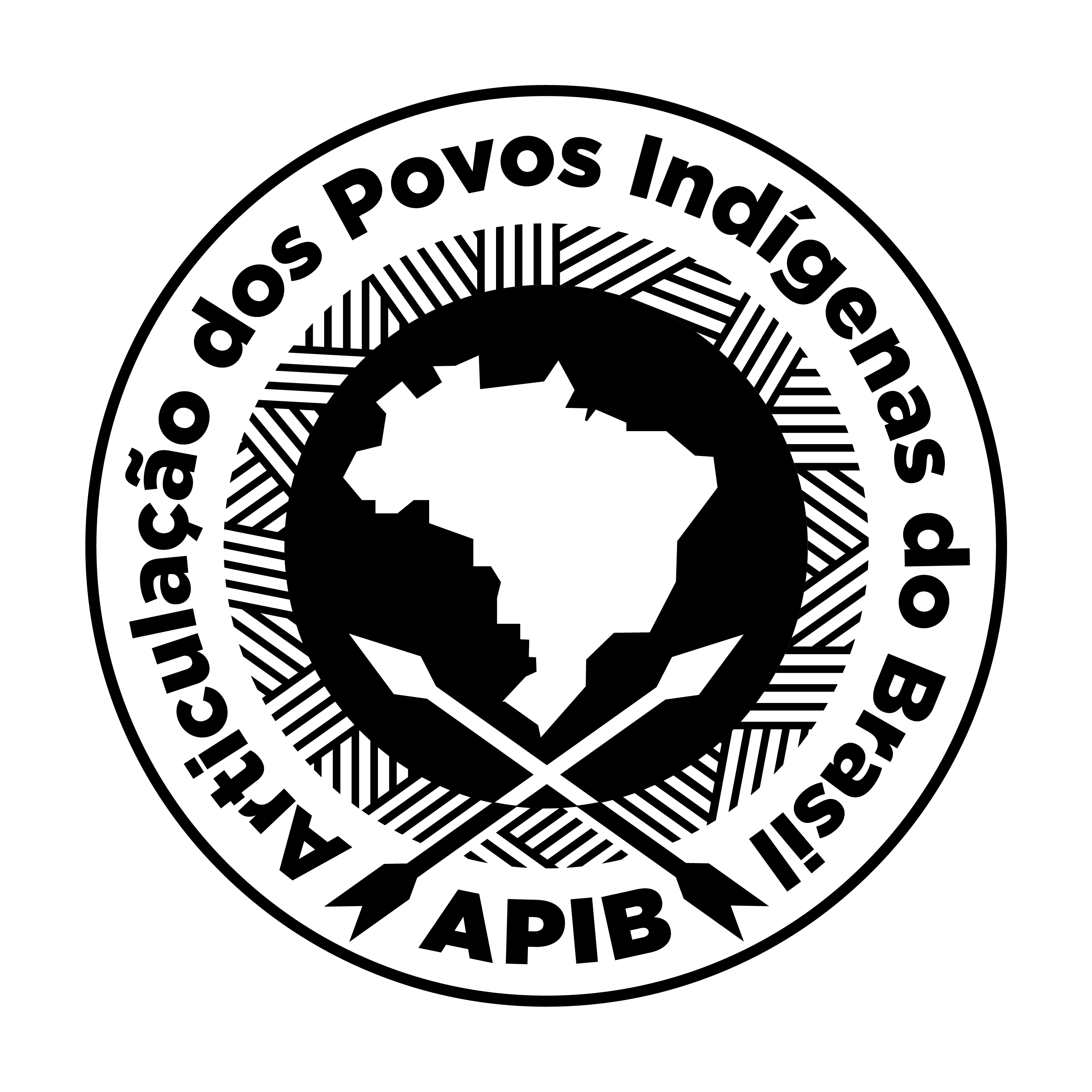Os direitos territoriais indígenas no Brasil são tema tão antigo quanto a formação do próprio Estado brasileiro. Diversos documentos históricos testemunham que, já no período da colônia, discutia-se, sem a participação dos indígenas, o que fazer com suas terras. A esse respeito diversas legislações foram promulgadas e outorgadas sem, no entanto, afastar a forma universalizadora típica dos textos legais, resultando na exclusão da diversidade sociocultural do país.
O artigo 231 da Constituição Federal de 1988, de modo geral, contempla os anseios territoriais dos povos indígenas. Apesar de ponderarem que o procedimento administrativo de demarcação deveria ser mais célere, não fazem críticas contundentes quanto ao conteúdo da norma constitucional. O texto da Carta Magna está respaldado pela participação de diversas lideranças indígenas na Assembleia Nacional Constituinte (ANC) conferindo à norma, maior legitimidade que as atuais interpretações que se têm feito dela.
Com o artigo 231, a Constituição Federal de 1988 consagrou o direito originário dos povos indígenas sobre as terras que tradicionalmente ocupam. O direito originário, portanto (que já havia sido afirmado no alvará régio de 1º de abril de 1680), ingressa definitivamente no rol das normas de mais elevada hierarquia, as normas constitucionais. É constitucional, portanto, o entendimento de que o direito dos indígenas sobre suas terras é inato e que o ato administrativo estatal de demarcação de Terras Indígenas possui natureza jurídica meramente declaratória, e não, constitutiva de direito. Essa teoria, de que os direitos originários são direitos congênitos, em vez de adquiridos, é conhecida como teoria do indigenato.
A participação dos povos indígenas na ANC assegurou que o texto constitucional fosse pautado pela renúncia definitiva de conceitos retrógrados que guiavam a política indigenista até então e pela inauguração de um Estado que reconhece sua realidade pluriétnica e multicultural e pela garantia expressa dos direitos indígenas, tanto os territoriais, como os sociais. As conquistas advindas da luta indígena por reconhecimento lograram ser positivadas no ordenamento jurídico.
A Constituição de 1988 consagrou a utilização do termo “terras tradicionalmente ocupadas”, desvinculando-o da noção de imemoriabilidade, sendo, portanto, referido ao modo de ocupação, desprovido de referência temporal. Um documento elaborado por docentes doutores e especialistas na temática indígena da Universidade de Brasília[1] demonstrou como o debate na época da Constituinte a respeito da manutenção ou não do termo “posse imemorial” teve como desfecho a sua supressão. Procurava-se adequar o texto à histórica situação de deslocamentos forçados indígenas desde o início da conquista europeia até os dias atuais, na qual nenhuma etnia poderia ser considerada na situação de imemorialidade.
A lógica prevalecente anteriormente de que seriam reconhecidos aos indígenas seus direitos originários sobre as terras de posse imemorial onde se encontrariam permanentemente localizados foi considerada como “totalmente supérflua” ou propositalmente colocada para gerar ambiguidade. A imemorialidade poderia dar margem para a interpretação na qual não se consideraria “a migração sazonal do índio, no seu nomadismo, ou quando atua periodicamente em amplas reservas florestais, para sua sobrevivência e para a sobrevivência da sua cultura”[2]. Não se pode exigir fidelidade territorial de 500 anos aos territórios indígenas — fidelidade que já não se verifica no continente europeu, quanto mais em territórios constituídos por processo de colonização que incluíram a expulsão, deslocamento e concentração forçados e violentos, a redução demográfica e a desarticulação social dos povos indígenas.
A tradicionalidade está relacionada a um modo tradicional de relação dos índios com as suas terras, e não a uma noção de antiguidade ou circunstância temporal. O que define a tradicionalidade da ocupação de um povo indígena, do ponto de vista dos seus próprios usos, costumes e tradições, é uma forma determinada de memória da terra, intrinsecamente ligada aos modos indígenas de viver nela. Este entendimento de o que significa o “tradicionalmente ocupado”, tal com se encontra na Constituição, afasta alguns dos argumentos absurdos que sustentam a necessidade de definição de um marco temporal, tal como aquele de que os indígenas poderiam pleitear a demarcação de qualquer e toda parte do território nacional como Terra Indígena. Isso não é nem uma possibilidade administrativa e jurídica do Estado brasileiro nem tampouco uma demanda dos povos indígenas brasileiros.
Entretanto, a garantia formal dos direitos territoriais indígenas não tem sido suficiente para assegurar sua materialização. O texto da chamada Constituição Cidadã conferiu aos indígenas a possibilidade de serem sujeitos de suas histórias, de seus direitos e de suas decisões. Todavia, uma parcela da população ligada a valores antirrepublicanos e antidemocráticos esforça-se para manter viva a mentalidade advinda de séculos de construções sociais privativas de direitos.
Dentre as opções feitas pelo constituinte originário está a decisão de atribuir a prerrogativa de demarcação de Terras Indígenas ao Poder Executivo Federal, que a executa por meio de um ato administrativo complexo. O ato se inicia na Funai, segue para o Ministério da Justiça e por fim vai à Casa Civil.
O Poder Judiciário, quando provocado, pode intervir em qualquer das fases do processo de reconhecimento territorial (identificação e delimitação, contraditório, declaração, homologação, extrusão de ocupantes não-indígenas e registro) a fim de garantir a devida execução do rito e assegurar que não haja abusos por parte das autoridades envolvidas. Atualmente, essas intervenções judiciais, que deveriam ser eventuais, configuram-se como um verdadeiro fenômeno que nos permite afirmar, sem exagero, que o Poder Judiciário tornou-se – informalmente – mais um dos atores a participar das fases do procedimento administrativo de demarcação de Terras Indígenas, influenciando ou, até mesmo, ordenando ao Poder Executivo quais decisões devem ser tomadas. Tornou-se raro encontrar procedimento demarcatório em que não haja judicialização.
Essa realidade sempre vem à tona no caso concreto de cada julgamento, afinal, a virtualidade da lei não dialoga com a imanência do real. Por meio da invisibilização da heterogeneidade de etnias, anula-se a diversidade das realidades territoriais. A invisibilidade dessa complexidade acaba por iludir os operadores do Direito que, a partir de seu lugar de fala ocidental e uniformizadora, não se atentam para o quanto isso desfavorece a resolução de questões territoriais, arrastando-as por anos.
Embora não seja fenômeno recente, a judicialização dos procedimentos de demarcação de Terras Indígenas intensificou-se sobremaneira após o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal na Petição nº 3.388/RR, que tratou da demarcação da Terra Indígena (TI) Raposa Serra do Sol. Esse julgamento resultou no Acórdão que se fundamentou na combinação da relatoria do ministro Carlos Ayres Britto – assentando a condição indígena da totalidade da área demarcada – com as dezenove condicionantes elaboradas pelo ministro Carlos Alberto Menezes Direito.
O entendimento do relator estabelece nova condição a ser atribuída ao caráter de permanência da habitação dos indígenas em suas terras, ao mesmo passo que engessa e restringe os estudos antropológicos capazes de verificar as variadas facetas que a permanência da habitação pode adquirir ao longo dos anos.
Esse entendimento tem acarretado significativo aumento das demandas ao Judiciário, uma vez que a inovação gerou expectativas de que Terras Indígenas já declaradas possam vir a ser desconstituídas. Para mencionar somente as três primeiras anulações e restringir a análise ao âmbito da Suprema Corte, citamos as TI Porquinhos, no Maranhão, Guyraroká e Limão Verde, no Mato Grosso do Sul.
Não deixa de ser curioso o fato de que os demais tribunais estejam fazendo uso desse exercício interpretativo, uma vez que, nos embargos de declaração, o STF afirmou estarem os termos do julgado restritos ao caso concreto. A análise dos embargos coube ao ministro Roberto Barroso, que assim se pronunciou:
A decisão proferida em ação popular é desprovida de força vinculante, em sentido técnico. Nesses termos, os fundamentos adotados pela Corte não se estendem, de forma automática, a outros processos em que se discuta matéria similar. Sem prejuízo disso, o acórdão embargado ostenta a força moral e persuasiva de uma decisão da mais alta Corte do País, do que decorre um elevado ônus argumentativo nos casos em se cogite da superação de suas razões.
Assim, para autorizar que um território possa ser declarado pelo Poder Executivo Federal como tradicionalmente indígena a Segunda Turma do STF e – não o tribunal pleno, frise-se – tem tentado instituir a rígida exigência de que os indígenas estivessem na posse da área em 5 de outubro de 1988.
Nas três decisões mencionadas, o Poder Judiciário tem interferido de modo a protagonizar o resultado do procedimento demarcatório administrativo de Terras Indígenas, exigindo a nulidade das demarcações. Vale ressaltar que as consequências ocorridas in loco após uma pronunciação dessa natureza podem vir a atrasar a demarcação em anos ou décadas, fazendo com que, na prática, venham a ter efeitos de difícil retroação.
As pesquisas antropológicas realizadas com indígenas brasileiros, com resultados acumulados de cerca de um século e reconhecimento de qualidade científica a nível internacional têm demonstrado a relação constitutiva entre modos de habitar, modos de conhecer e modos de rememorar (e assim transmitir) o conhecimento relativo às terras vividas como território por estes povos. O território indígena, que é identificado e delimitado por meio do Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação – RCID, elaborado através de estudo coordenado por um antropólogo, abrange as diferentes formas de utilização da terra pelos indígenas, tais como suas práticas agrícolas, seus regimes de assentamento e deslocamento, suas atividades de caça, pesca e coleta, e também as localidades de importância ritual, espiritual e mítica para cada povo.
É importante reiterar que a situação de cada povo indígena tem que ser tratada por um estudo que o contextualize nas suas relações históricas e sociais particulares. O argumento de que povos indígenas estariam sendo “inventados” é falacioso, pois não é possível inventar toda a relação histórica e social de um povo com uma terra específica. É importante reiterar o caráter técnico dos RCIDs, onde o objeto de estudo tem uma natureza sociocultural e socioecológica complexa, acessível, no que diz respeito à ciência ocidental, aos métodos específicos da antropologia social ou cultural, em articulação necessária com outras disciplinas, tais como história, geografia, ciências ambientais, biologia, entre outras. Os argumentos que têm procurado descaracterizar a excelência da expertise antropológica nos procedimentos de identificação e delimitação de Terras Indígenas não se baseiam em critérios técnicos e científicos e são notáveis pelo seu abundante desconhecimento da temática, das discussões teóricas e metodológicas dessas disciplinas. Os relatórios e as discussões realizadas no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI Funai-Incra são o maior exemplo da falta de qualificação técnica e científica nos argumentos que pretendem desqualificar o trabalho dos antropólogos na elaboração dos RCIDs. O trabalho multidisciplinar, do qual o RCID é fruto, é fundamental para uma apreensão ao mesmo tempo sintética e rigorosa da experiência e do fenômeno da ocupação tradicional por aqueles que não compartilham as mesmas formas de relação com a terra. Trata-se, portanto, da identificação de formas de relação com a terra que esses povos possuem que não podem ser analisadas sob a lógica da sociedade nacional hegemônica, no seu trato com a terra enquanto propriedade privada.
A INA reafirma a confiança nos trabalhos realizados pela equipe técnica da Fundação Nacional do Índio. A ingerência do Judiciário sobre o mérito do procedimento administrativo de demarcação de Terras Indígenas não é razoável, pois conhecimentos específicos e técnicos, alheios à área jurídica estão presentes nos estudos preparatórios de demarcação. O processo de produção probatória típico do processo judicial não é capaz de substituir os dados levantados pelo grupo técnico que realizou o RCID de uma Terra Indígena, tampouco de alcançar a complexidade do pensamento indígena, também presente nos estudos.
A desconfiança para com o trabalho da Funai não pode ser justificativa para um ativismo judicial competitivo, no qual o Poder Judiciário se subroga na posição do gestor público, mas sim um ativismo cooperativo, exigindo do Poder Executivo, quando isso não for feito, que comprove a razoabilidade de sua escolha. Em vez de dar provimento a pleitos individuais geradores de insegurança jurídica, a decisão mais acertada para o Poder Judiciário é a de incentivar o Executivo a aprimorar análises de impacto e a consistência das escolhas administrativas.
Por fim, nos posicionamos contra o desvirtuamento do texto constitucional que resultou na tese do marco temporal, bem como contra qualquer tentativa de se institucionalizar tal tese, como a Portaria nº 303/2012/GAB/CGU/AGU e o Parecer nº 001/2017/GAB/CGU/AGU. Entendemos ser inconstitucional vincular a atuação da Administração Pública Federal à aplicação da tese do marco temporal e às 19 condicionantes que o STF estabeleceu na decisão da Petição nº 3.388/RR.
________________________________________
[1] LAEPI, T/terra, Moitará. Memorial – Território indígenas e remanescentes de quilombos, ACO 362, 366, e 429, ADI 3239-DF. Em pauta para julgamento no dia 16 de agosto de 2017. Brasília, agosto de 2017. (http://www.cimi.org.br/pub/DF/2017_Ato_MarcoTemporal/Memorial_UNB.pdf)
[2] BRASIL, 1987. Anais da Constituinte, Suplemento C.