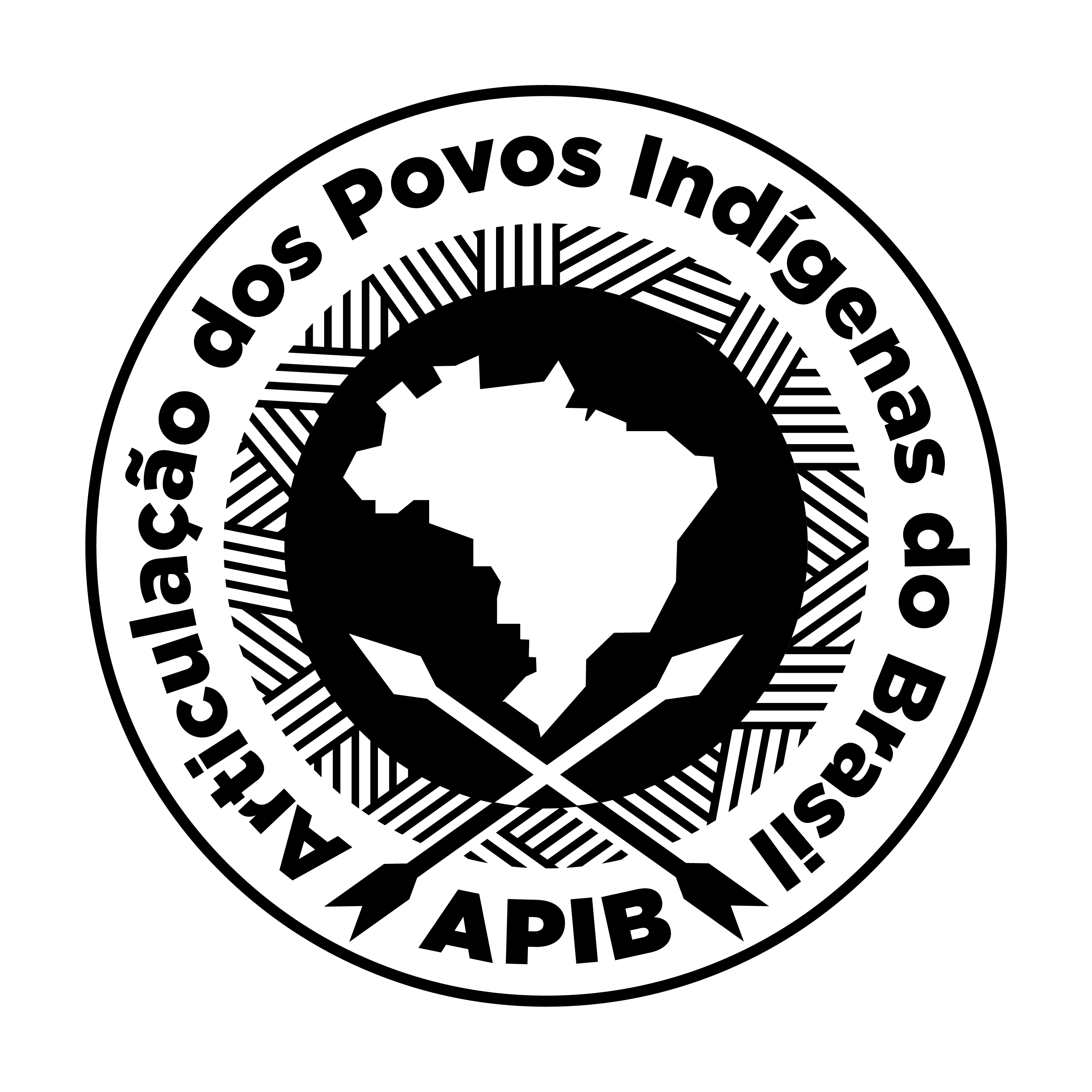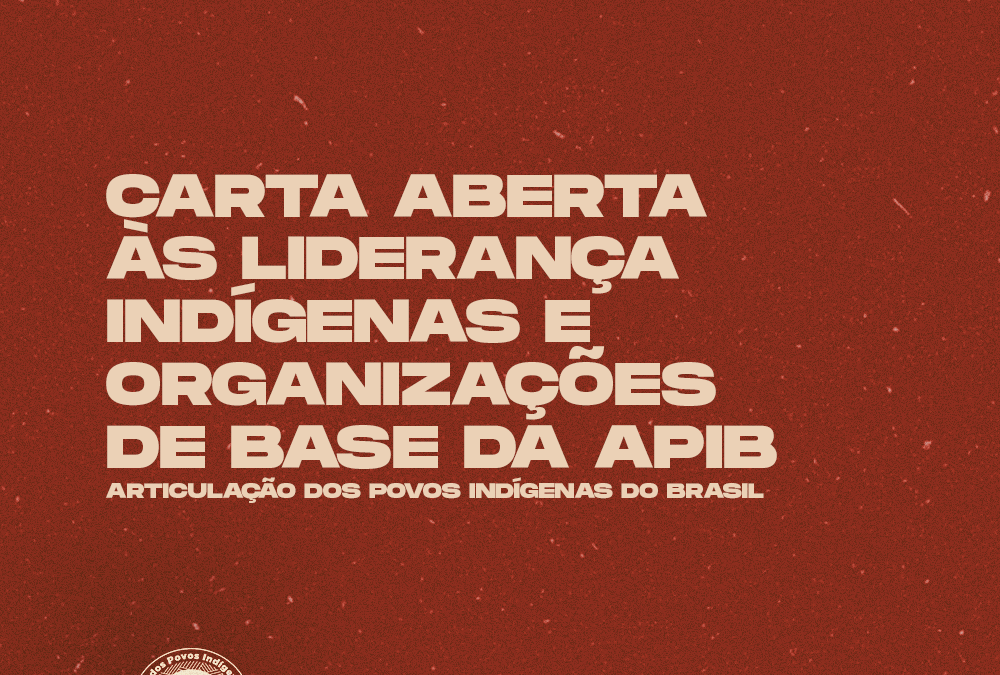13/maio/2021
Nós, movimentos sociais que subscrevemos esta nota, vimos a público repudiar a morte da gestante indígena e seu filho, ocorridas no Hospital Regional de Aquidauana, no dia 13 de março de 2021.
Na ocasião a gestante (grávida de 32 semanas) deu entrada no hospital regional com sangramento e fortes contrações, sendo atendida pelo médico de plantão e orientada de que seria encaminhada para Campo Grande, pois o hospital não estava preparado para atender partos prematuros.
Ocorre que a gestante teve um descolamento de placenta que só poderia ser confirmado através de um exame de ultrassom. Porém o médico informou que não sabia manusear o equipamento de ultrassom e não havia nenhum operador no local.
Quando o médico que foi designado para acompanhar a gestante até a capital realizou novamente os protocolos na paciente, detectou que o bebê não tinha mais batimento cardíaco. Já estava morto.
Mas era necessário realizar o ultrassom para verificar o que havia acontecido com o bebê. O exame só foi realizado no dia seguinte, as 9h da manhã, com a chegada do técnico de ultrassom. Com o exame realizado, constatou -se que houve o descolamento do cordão umbilical, seguido de um intenso sangramento que resultou em um coágulo. O médico informou que a paciente deveria passar com urgência por uma cesárea para a retirado do bebê e a limpeza do coágulo de sangue.
A partir daí, tudo ficou mal explicado. O que poderia ser somente um nascimento prematuro se transformou em uma verdadeira tragédia, devido a negligência por parte do hospital.
Não podemos aceitar que um hospital regional de referência na região, não tenha um técnico de plantão para efetuar os exames de ultrassom. É inadmissível que mortes de mães e bebês sejam naturalizadas por negligências.
A morte de Ruthe e Raviel poderiam ter sido evitadas! Ambos foram vítimas de violência obstétrica: negligência, discriminação com base no gênero, de um sistema de saúde precário e deficitário. A violência obstétrica tem diversas nuances, em comum, o desrespeito com a mulher. É um tipo de violência de gênero que só afeta mulheres pelo simples fato de que apenas as mesmas passam pela experiência da gestação e do parto. Não são casos isolados, são heranças de uma cultura que normatiza esse tipo de violência.
É importante notar que o termo “violência obstétrica” não se refere apenas ao trabalho de profissionais de saúde, mas também as más condições do sistema de saúde como um todo: falta de recursos, falta de capacitação técnica e falhas sistêmicas da unidade de saúde, etc.
Não podemos aceitar que nesse século, ainda haja mortes de mães e bebês, por falta de recursos humanos ou tecnológicos, isso é inadmissível.
É inaceitável que passados 60 dias, do ocorrido, o hospital não tenha instaurado uma sindicância para apurar o caso, demonstrando total descaso com o ocorrido.
Não podemos nos calar e ignorar que a todo momento usuários da saúde pública sofram algum tipo de agressão à vida ou a integridade.
Não podemos aceitar que essa dor que hoje, corrói, destrói, machuca e deixa indignação e revolta, seja causada a mais famílias indígenas ou não.
Exigimos que essas negligências, imprudências ou imperícia, acabem.
O Povo TERENA chora pela morte de mais uma indígena Guerreira, lutadora e exige resposta. Que a justiça seja feita.
VIDAS INDÍGENAS IMPORTAM!!
#ruthetemfamilia
#ravieltemfamilia
#vidasindígenasimportam
Aldeia Ipegue, 13 de maio de 2021.

11/maio/2021
A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) entrou, nesta terça-feira (11), com uma representação criminal contra o presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai), Marcelo Xavier. O protocolo foi feito ao Ministério Público Federal (MPF) e pede que seja instaurado um inquérito solicitando a condenação de Xavier pelo crime de denunciação caluniosa.
Para a Apib, o presidente da Funai, que também é delegado da Polícia Federal (PF), cometeu crime quando utilizou o aparato do órgão indigenista para promover perseguição política contra a Apib e Sonia Guajajara, uma das coordenadoras executivas da organização.
No dia 26 de abril, durante o mês da maior mobilização indígena do Brasil e na semana seguinte à reunião da Cúpula do Clima, a Polícia Federal (PF) intimou Sonia para depor em um inquérito aberto na polícia a mando da Fundação Nacional do Índio (Funai).
O órgão, cuja missão institucional é proteger e promover os direitos dos povos do Brasil, acusa a Apib de difamar o Governo Federal com a websérie “Maracá” (http://bit.ly/SerieMaraca), que denuncia violações de direitos cometidas contra os povos indígenas no contexto da pandemia da Covid-19.
A Justiça Federal do Distrito Federal determinou no dia 5 de maio, a pedido da Apib, a anulação do inquérito aberto pela PF a mando da Funai. “Diante de todo o exposto, a Apib, requer o recebimento da presente representação, bem como a instauração do competente inquérito, visando ao final a condenação do presidente da Funai, Sr Marcelo Augusto Xavier da Silva, pelo cometimento do crime previsto no artigo 339, do Código Penal”, reforça trecho da representação apresentada ao STF.
Acesse a representação aqui

11/maio/2021
As entidades abaixo assinadas vêm manifestar seu mais veemente repúdio ao novo substitutivo ao Projeto de Lei nº 3.729/2004, que visa estabelecer a Lei Geral do Licenciamento Ambiental, divulgado pelo relator Deputado Neri Geller na data de ontem (10.05.2021) para votação diretamente no plenário da Câmara dos Deputados.
O Projeto, se aprovado, ainda mais sem a participação dos povos e comunidades impactados, constituirá frontal violação aos direitos constitucionais dos povos indígenas, especialmente de seus direitos territoriais. Seu objetivo é impor severos impactos às Terras Indígenas, assim como aos Territórios Quilombolas, Unidades de Conservação e áreas de proteção, bem como ao patrimônio histórico e cultural, sem que sequer sejam objeto de avaliação de impacto ou de medidas de prevenção, mitigação e compensação. E a consequência da devastação ambiental sobre essas Áreas Protegidas recairá sobre o direito de toda a sociedade a viver em um meio ambiente ecologicamente equilibrado, impactando a vida, a qualidade de vida, a saúde e a dignidade humana.
A proposta prevê que apenas serão consideradas no licenciamento ambiental as Terras Indígenas homologadas, o que exclui cerca de 40% das Terras em processo de demarcação. Por igual, limita a avaliação de impactos e as medidas preventivas aos Territórios Quilombolas titulados, suprimindo 87% desses territórios do mapa, para fins de licenciamento. Da mesma forma, há sérias restrições à aplicação da legislação sobre Unidades de Conservação e áreas de proteção ao patrimônio histórico e cultural.
Ocorre que as Terras Indígenas e Territórios Quilombolas, áreas de uso coletivo, não se sujeitam à finalização dos processos de demarcação para que os direitos dos povos indígenas e quilombolas sejam considerados. O Supremo Tribunal Federal, por inúmeras oportunidades, inclusive recentes, tem reiterado que esses direitos territoriais independem de ato estatal de demarcação ou titulação que os reconheça.
As disposições contidas nos artigos 39 e 40, se aprovadas, além de patentemente inconstitucionais, demonstrarão desprezo do Congresso Nacional com a pauta de meio ambiente e de direitos humanos, na esteira da agenda de destruição do governo Bolsonaro. Tudo isso no momento em que o País é cobrado a reforçar as salvaguardas que garantam os direitos das comunidades indígenas e quilombolas, já gravemente afetadas e vulnerabilizadas pela pandemia e pela estagnação de políticas públicas que garantam e efetivem os seus direitos territoriais.
É inadmissível que a emissão de licenças para autorizar empreendimentos com significativo impacto em Terras Indígenas e Quilombolas seja realizada sem qualquer avaliação de impactos e adoção de medidas de prevenção de danos aos povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, além da explícita violação ao seu direito de consulta livre, prévia e informada, fazendo de seus direitos, da Constituição da República Federativa do Brasil e de tratados internacionais assinados pelo Brasil, letra morta.
Indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais têm o direito de escolher suas próprias prioridades no que diz respeito aos seus territórios, sendo inadmissível que o projeto tente tratorar suas terras e o faça sem o mínimo de diálogo com seus povos ou sem o competente processo de consulta livre, prévia e informada, previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos, na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), no Pacto Internacional sobre Direitos Cíveis e políticos (PIDCP), Pacto Internacional de Direitos Econômicos Sociais e Culturais (PIDESC) e na Convenção para a Eliminação de todas as formas de Discriminação Racial.
Diante da extrema gravidade do projeto e de sua patente inconstitucionalidade, registramos que não admitiremos retrocessos em nossos direitos e, com o apoio da sociedade brasileira e também da comunidade internacional, tomaremos todas as medidas cabíveis para impedir a aprovação do PL nº 3.729/2004, cujas consequências podem causar o extermínio físico e cultural de povos indígenas, quilombolas e de comunidades tradicionais brasileiras.
REFORÇAMOS QUE NOSSA LUTA É POR NENHUM DIREITO A MENOS E NENHUM PASSO ATRÁS!
Articulação dos Povos Indígenas do Brasil – APIB
Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas – CONAQ
Conselho Nacional das Populações Extrativistas – CNS
Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo – APOINME
Articulação dos Povos Indígenas do Sudeste – ARPINSUDESTE
Articulação dos Povos Indígenas da Região Sul – ARPINSUL
Aty Guassu Guarani Kayowá
Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira – COIAB
Comissão Guarani Yvyrupa – CGY
Conselho do Povo Terena
Instituto Socioambiental – ISA
Indigenistas Associados – INA
Conselho Indigenista Missionário – CIMI
Observatório dos Direitos Humanos dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato – OPI
Centro de Trabalho Indigenista – CTI
Instituto Internacional de Educação do Brasil – IEB
Instituto Sociedade, População e Natureza – ISPN
Operação Amazônia Nativa – OPAN
Instituto de Pesquisa e Formação Indígena – IEPÉ
Rede de Cooperação Amazônica – RCA
Greenpeace Brasil
Associação Brasileira de Saúde Coletiva – ABRASCO
Fundación Arayara de Educación y Cultura
Observatório do Carvão Mineral
Observatório do Petróleo e Gás
Coalizao Não Fracking Brasil pelo Clima, Água e Vida – COESUS
Observatorio de direitos e políticas indigenistas – OBIND
Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas
Acesse o documento e baixe aqui

10/maio/2021
A APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, repudia de forma veemente as declarações do Presidente da República, Jair Bolsonaro, durante a abertura on-line da 86.º Expozebu, no dia 01 de maio.
Em primeiro lugar não são parentes ou irmãos os que promovem o genocídio da COVID 19, que negam o direito das nações indígenas ao seu território e apoiam as invasões assassinas realizadas pelos latifundiários nestas terras sagradas.
Em segundo lugar, terroristas são os que promovem o genocídio de mais de 420.000 brasileiros, e não os camponeses e seus movimentos, citados pela fala esdrúxula o MST e a Liga dos Camponeses Pobres, que lutam pela terra.
A luta pela terra não é um “foco de terrorismo em Rondônia”, como quis fazer parecer o Presidente falando aos latifundiários, quando atacou a LCP.
A luta pela terra e pelos territórios dos povos indígenas e quilombolas é a legítima reivindicação de milhões de brasileiros e dos povos originários por todos os rincões brasileiros; é a legítima reivindicação da nação para sustar a pilhagem imperial de mineradoras, madeireiras, plantadores de soja e criadores de gado, que fazem terra arrasada da imensurável riqueza das terras brasileiras e de sua natureza.
Ao atacar a LCP como terrorista, além de tentar tirar o foco de seus crimes durante a pandemia, o que pretende com estas declarações este senhor é preparar o terreno para novos massacres no campo, justamente neste mês de maio em que se completam quatro anos do famigerado massacre de Pau D`arco, no Pará, ocorrido no dia 24 de maio de 2017.
Não custa lembrar que os mandantes e executores deste crime hediondo estão livres, e os camponeses que vivem na Fazenda Santa Lúcia, onde ocorreu o massacre, estão ameaçados de despejo.
Nós, povos indígenas do Brasil, repudiamos esta fala perversa e mal intencionada, e declaramos que nossos verdadeiros irmãos são os camponeses, os quilombolas e o povo trabalhador brasileiro.
APIB, 10 de maio de 2021

07/maio/2021
O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, hoje (7), pelo seguimento da demarcação da Terra Indígena Taunay-Ipegue, do povo Terena, no município de Aquidauana, em Mato Grosso do Sul (MS). A ministra Rosa Weber, juntamente com os ministros Marco Aurélio e Alexandre de Moraes acompanharam a decisão do relator do caso Dias Toffoli, que anula o mandado de segurança dos ruralistas que pediam a suspensão do processo de reconhecimento do território Terena.
O mandado de segurança contra o povo Terena iniciou em maio de 2016 pelo fazendeiro Osvaldo Benedito Gonçalves, com apoio de outros fazendeiros e empresários, além de políticos locais. No dia 14 de setembro de 2016, o então ministro Luiz Fux, que era relator do processo na época, julgou em caráter liminar favoravelmente ao pedido do fazendeiro.
Em 2020, o ministro Dias Toffoli foi nomeado como novo relator do processo e no dia 17 de novembro decidiu pelo cancelamento da suspensão da demarcação da TI Taunay-Ipegue. A nova decisão permitiu o seguimento do reconhecimento legal do território do povo Terena e foi baseado em um entendimento do STF de que ‘mandado de segurança’ não é o instrumento jurídico adequado para questionar a demarcação de terras indígenas.
Os ruralistas recorreram da decisão do ministro Dias Toffoli e agora a corte do STF decidiu em favor do povo Terena. A comunidade indígena foi aceita para participar do processo sendo representada pelo advogado indígena Luiz Eloy, originário da aldeia Ipegue e assessor jurídico da APIB.
Acesse o memorial jurídico e entenda sobre o caso
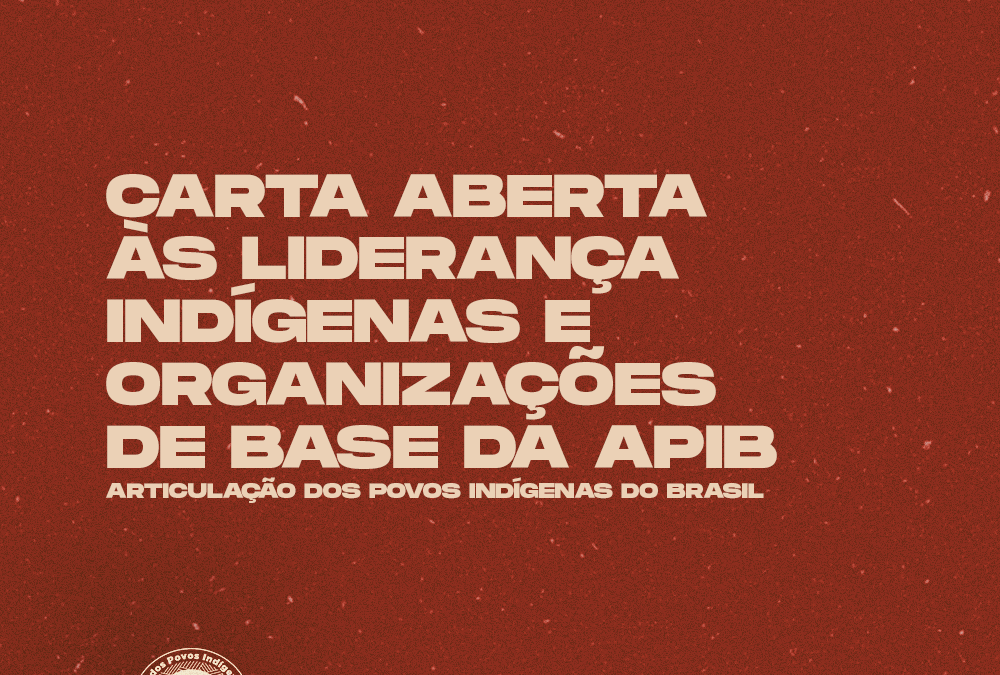
07/maio/2021
Caros parentes,
Como vocês sabem, estamos sofrendo uma ofensiva duríssima por parte do Governo Federal que quer deslegitimar a nossa luta pela vida.
Depois de perseguir e tentar criminalizar nossas lideranças, o governo de Jair Bolsonaro, através da gestão do delegado da Polícia federal Marcelo Xavier à frente da FUNAI, tenta agora pressionar os servidores das Coordenações regionais do órgão e lideranças locais a fornecerem informações sobre doações feitas pela APIB, organizações ambientalistas e indigenistas no período da pandemia.
É com repúdio absoluto que recebemos essas denúncias! Ao invés de se mover para minimizar os martírios impostos pela pandemia e retomar os processos de demarcações, esse governo age para coagir aqueles que estão incessantemente em busca de assegurar as vidas indígenas e proteger o meio ambiente.
É com grande preocupação que observamos uma profunda mudança de rota nas ações do órgão federal, que deveria zelar, cuidar, proteger e promover os direitos dos povos originários. Agora sob o comando de um presidente delegado, a ‘nova FUNAI’ vem se comportando como uma espécie de polícia política que busca intimidar, criminalizar e coagir as lideranças indígenas em claro flagrante persecutório.
De acordo com informações da própria ABIN (Agência Brasileira de Inteligência), a agência está sendo utilizada para levantar informações das entidades que atuam nos territórios indígenas, evidenciando, assim, a sanha policialesca da FUNAI. O resultado é que essa atitude ajuda na disseminação do vírus da Covid-19, aumenta os conflitos entre os parentes e ainda isenta o órgão indigenista de exercer sua responsabilidade constitucional. Lembramos que a FUNAI gastou apenas 52% dos recursos para o enfrentamento da pandemia entre indígenas.
É hora de intensificarmos nossa unidade em luta para que essa importante instituição do Estado Brasileiro retome seu papel constitucional e responda aos povos indígenas e ao Brasil as consecutivas negligências.
Não nos curvaremos à sanha desse governo anti-indígena. Seguiremos na resistência, como nossos ancestrais fizeram até aqui.
APIB – Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, 07 de maio de 2021
Organizações regionais de base:
APOINME – Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo
ARPIN SUDESTE – Articulação dos Povos Indígenas do Sudeste
ARPINSUL – Articulação dos Povos Indígenas do Sul
ATY GUASU – Grande Assembléia do povo Guarani
Comissão Guarani Yvyrupa
Conselho do Povo Terena
COIAB – Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira

07/maio/2021
Lideranças e movimentos sociais enfrentam processos de criminalização e perseguição pelo governo de Jair Bolsonaro.
“Nós não nascemos pra morrer, nós nascemos pra viver e lutar”, partilhou Geneci diretamente do Quilombo Flores em Porto Alegre (RS), durante o Encontro da Articulação dos Povos e Comunidades Tradicionais, que ocorreu entre os dias 4 e 5 de maio de 2021, em plataforma digital.
Organizar a resistência, articular a diversidade, defender a vida nos territórios: esses são alguns dos objetivos que norteiam a Articulação dos Povos e Comunidades Tradicionais, que realizou um encontro virtual, em função da pandemia de covid-19, mais um dos desafios enfrentados pelos diversos povos e comunidades que resistem aos projetos e ataques que avançam sobre seus territórios em todo o país.
O encontro foi organizado pela Articulação das Pastorais do Campo com o intuito de reunir lideranças e movimentos sociais, trazendo uma pluralidade de povos e partilhas. Dentre os temas apresentados, processos de criminalização e ameaças a lideranças, movimentos sociais e agentes pastorais foi predominante.
Diante do atual governo, que vem promovendo um desmonte de políticas sociais, redução do orçamento de órgãos ambientais e intensa militarização das instituições públicas, os processos de criminalização, ameaça e perseguição a lideranças de movimentos sociais têm sido recorrentes. No último mês, lideranças como Sônia Guajajara, da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) e Almir Suruí foram intimadas para depor na Polícia Federal, acusadas de propagar mentiras sobre o atual governo.
Frente a essas graves ocorrências, a Articulação dos Povos e Comunidades Tradicionais e Pastorais do Campo emitem Manifesto Público, em denúncia ao governo de Jair Bolsonaro e em solidariedade às lideranças e agentes pastorais criminalizados pela atual conjuntura política.
Acompanhe o manifesto a seguir:
Manifesto Público contra a criminalização de lideranças de movimentos que lutam em defesa dos direitos dos povos e comunidades tradicionais.
Nós, Indígenas, quilombolas, vazanteiros, ribeirinhos, quebradeiras de coco babaçu, comunidades de fundo e fecho de pasto, pescadores e geraizeiros, integrantes de Povos e Comunidades Tradicionais, que participamos do Encontro Nacional da Articulação dos Povos e Comunidades Tradicionais , viemos a público manifestar solidariedade e apoio às lideranças indígenas Almir Suruí, Sônia Bone Guajajara, Deoclides de Paula Kaingang, Maria Inês de Freitas Kaingang e tantos outros, que pelo Brasil, sofrem com a perseguição de agentes de estado e são criminalizados através da proposição e abertura de inquéritos policiais, flagrantemente intimidatórios.
Também repudiamos a atitude discriminatória e persecutória, posta a cabo pelo governo Bolsonaro, por meio do presidente da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), Marcelo Augusto Xavier da Silva, contra as organizações indígenas APIB – Articulação de povos Indígenas do Brasil, APOINME – Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo, ARPIN SUL – Articulação dos Povos Indígenas do Sul, COIAB – Coordenação de Organizações Indígenas na Amazônia Brasileira, CGY – Comissão Guarani Yvyrupá e Conselho do Povo Terena.
Manifestamos igualmente nosso repúdio à ação movida pelo Governo do Estado do Maranhão contra o assessor jurídico da Comissão Pastoral da Terra, Rafael Silva, em retaliação à atuação na defesa da comunidade Cajueiro/São Luís – MA, contra despejos forçados e ilicitudes cometidos no projeto de implantação de projeto portuário privado de interesse do Governo do Estado.
Essas ações ameaçadoras vinculam-se a perspectiva de se promover a criminalização dos movimentos que lutam em defesa da terra, das águas e das matas, tendo em vista o favorecimento de segmentos econômicos estruturados para a exploração predatória e criminosa dos territórios originários e tradicionais de nossos povos e comunidades.
A criminalização de lideranças e movimentos sociais soma-se a um contexto alarmante de destruição socioambiental que atinge todos os biomas brasileiros, bem como territórios tradicionais e indígenas. Afirmamos, portanto, que os verdadeiros crimes são os cometidos pelo Estado Brasileiro, latifundiários, grileiros e mineradoras.
Povos e comunidades tradicionais convivem diariamente sob ameaça da destruição de seus territórios através da grilagem de terras, destruição das florestas, envenenamento dos rios, mineração, guerra química por agrotóxicos, conflitos no campo, crescimento da fome, insegurança alimentar e pela pandemia de COVID-19 que já assassinou milhares dos nossos.
Mesmo diante deste ambiente político de ameaças e intimidações, de desconstituição dos direitos e de desterritorialização, a resistência se faz necessária, organizada e articulada. Reafirmamos que seremos resistência, enraizada em nossas ancestralidades, na espiritualidade, nos encantados, nos orixás, nos encantos de luz, em Ñhanderue Tupã.
Somando-se à luta dos povos e fazendo coro com as denúncias acima citadas, a Articulação das Pastorais do Campo afirma irrevogável aliança e assina em conjunto o presente Manifesto. A presença pastoral é solidária e caminha junto aos povos e comunidades tradicionais por décadas, no enfrentamento direto ao capitalismo, fome e conflitos no campo brasileiro.
Por fim, nossa resistência está enraizada na mãe-terra e mergulhada nas profundezas das águas maternas. As formas de resistir se fazem sementes plantadas hoje, agora no presente, para florir e gerar vida de libertação no futuro.
Seguimos juntos e em unidade na luta e na esperança construindo caminhos do Bem Viver.
Articulação dos Povos e Comunidades Tradicionais e Articulação das Pastorais do Campo.
Maio de 2021

06/maio/2021
A pedido da Apib, a Justiça Federal determinou o trancamento do inquérito policial instaurado contra Apib e Sonia Guajajara.
A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) protocolou uma denúncia ontem, 5, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) e no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre as perseguições políticas do Governo Federal contra a Apib e Sonia Guajajara, uma das coordenadoras executivas da organização.
No dia 26 de abril, durante o mês da maior mobilização indígena do Brasil e na semana seguinte à reunião da Cúpula do Clima, a Polícia Federal (PF) intimou Sonia para depor em um inquérito aberto na polícia a mando da Fundação Nacional do Índio (Funai). O órgão, cuja missão institucional é proteger e promover os direitos dos povos do Brasil, acusa a Apib de difamar o Governo Federal com a websérie “Maracá” (http://bit.ly/SerieMaraca), que denuncia violações de direitos cometidas contra os povos indígenas no contexto da pandemia da Covid-19.
“Alertamos a Comissão Interamericana de Direitos Humanos para a escalada autoritária em curso no Brasil. O ambiente democrático está em risco. Em nenhum Estado republicano e democrático o aparelho estatal pode ser usado sob o arbítrio de seus governantes. A livre manifestação de pensamento e a liberdade de expressão, amparadas por princípios constitucionais, convencionais e legais, não podem ser criminalizadas”, reforça o coordenador jurídico da Apib, Luiz Eloy Terena, na denúncia encaminhada à CIDH.
Leia a íntegra do documento aqui.
Todas as violações de direitos contra os povos indígenas durante a pandemia da Covid-19 expostas pela Apib na série Maracá foram apresentadas ao STF, em 2020, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 709. Na ocasião, a principal corte do país reconheceu as denúncias apresentadas e determinou que o Governo Federal adote medidas de proteção aos povos. Até o momento, a decisão do STF foi parcialmente acatada pelo governo.
“O inquérito aberto pela PF é uma nítida tentativa de limitar a liberdade de crítica, seja contra o governo ou contra seus agentes políticos, mesmo que isso também faça parte do Estado Democrático de Direito e que assuntos de interesse público e social estão sob a tutela do manto constitucional do direito à informação”, reforçou Eloy Terena em trecho da denúncia apresentada ao ministro do STF Roberto Barroso, que é relator da ADPF 709.
Leia a íntegra do documento aqui.
Inquérito trancado
No mesmo dia das denúncias feitas ao STF e CIDH, a Justiça Federal do Distrito Federal determinou na noite de ontem (5), a pedido da Apib, o trancamento do inquérito aberto pela Polícia Federal. A Apib entrou na Justiça no dia 3 de maio para anular a investigação, que é uma ação de perseguição política.
“Destaque-se também que a clara menção no ofício da FUNAI sobre supostas condutas caluniosas contra o Presidente da República deixa entrever que toda a situação narrada tem como principal fim calar manifestações políticas divulgadas por entidade que se posiciona contra o presente Governo Federal”, argumenta o juiz federal Frederico Botelho em sua decisão.

05/maio/2021
O Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou no dia 30 de abril o julgamento virtual que pede a suspensão da demarcação da Terra Indígena Taunay-Ipegue, do povo Terena, no município de Aquidauana, em Mato Grosso do Sul (MS). Os ministros devem decidir final até o dia 7 de maio.
Este mandado de segurança contra o povo Terena iniciou em maio de 2016 pelo fazendeiro Osvaldo Benedito Gonçalves, com apoio de empresários e políticos locais. No dia 14 de setembro de 2016, o então ministro Luiz Fux, que era relator do processo na época, julgou em caráter liminar favoravelmente ao pedido do fazendeiro.
Em 2020, o ministro Dias Toffoli foi nomeado como novo relator do processo e no dia 17 de novembro decidiu pelo cancelamento da suspensão da demarcação da TI Taunay-Ipegue. A nova decisão permitiu o seguimento do reconhecimento legal do território do povo Terena e foi baseado em um entendimento do STF de que ‘mandado de segurança’ não é o instrumento jurídico adequado para questionar a demarcação de terras indígenas.
Os ruralistas recorreram da decisão do ministro Dias Toffoli e agora o STF julga até esta sexta, dia 7, o caso. A comunidade indígena foi aceita para participar do processo sendo representada pelo advogado indígena Luiz Eloy, originário da aldeia Ipegue e assessor jurídico da APIB. O advogado “espera que a Corte mantenha a posição da jurisprudência consolidada e confirme a decisão do relator, arquivando de vez a ação movida pelos ruralistas”.
Acesse o memorial jurídico e entenda sobre o caso

05/maio/2021
A bancada do PSOL protocolou, na manhã da terça-feira (4), uma representação junto à Procuradoria da República no Distrito Federal (DF) contra o presidente da Funai e delegado da PF, Marcelo Xavier, e contra o também delegado da PF Francisco Vicente Badenes Junior.
A ação foi motivada pela intimação feita à líder indígena Sonia Guajajara, acusada de difamar o governo federal com a websérie “Maracá”, lançada em 2020 e que denunciou violações de direitos cometidas contra os povos indígenas durante a pandemia da Covid-19.
Na representação, o PSOL pede à Procuradoria que apure a prática do crime de abuso de autoridade e de improbidade administrativa e demonstra, num documento extenso e detalhado, que a disposição do presidente da Funai contra direitos dos povos indígenas vem de antes de sua nomeação para titular do órgão.
Depois da provocação da Funai, Guajajara foi intimada pela Polícia Federal no último dia 30 de abril. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), da qual Guajajara é uma das coordenadoras executivas, a Conectas e a Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas também denunciaram a acusação como perseguição política e racista.
Um dia após (1) a intimação de Sonia Guajajara, outra liderança da Apib, Almir Suruí, foi intimada a prestar depoimento em um inquérito aberto sobre divulgações na internet que, segundo a Funai, propaga “mentiras” contra o governo. O inquérito investiga notícia-crime de difamação, supostamente praticada contra a Funai, por integrantes da associação Metareilá do povo indígena Suruí, representada por Almir.
Formada em Letras e em Enfermagem, especialista em Educação Especial pela Universidade Estadual do Maranhão, Sonia Guajajara já foi ao Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU), levando denúncias às Conferências Mundiais do Clima (COP) e ao Parlamento Europeu. Ela também foi candidata à Vice-Presidência da República na chapa do PSOL em 2018, sendo a primeira candidata de origem indígena numa eleição presidencial no Brasil.
Representação – PR-DF